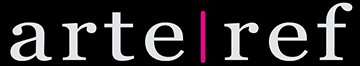O corpo é o motor da obra

Anatomization, Sylvia Rijmer – Instalação/performance
O CORPO É O MOTOR DA OBRA
Frederico de Morais
Obra é hoje um conceito estourado em arte. Eco e outros teóricos da obra de arte aberta, foram provavelmente os últimos defensores da noção de obra. Deixando de existir fisicamente, libertando-se do suporte, da parede, do chão ou do teto, a arte não é mais do que uma situação, puro acontecimento, um processo. O artista não é mais o que realiza obras dadas à contemplação, mas o que propõe situações – que devem ser vividas, experimentadas. Não importa a obra, mesmo multiplicada, mas a vivência.
O caminho seguido pela arte – da fase moderna à atual, pós-moderna – foi o de reduzir a arte à vida, negando gradativamente tudo o que se relacionava ao conceito de obra (permanente, durável): o específico pictórico ou escultórico, a moldura, o pedestal, o suporte da representação, a elaboração artesanal, o painel ou o chão e, como conseqüência, o museu e a galeria. Nesta evolução, dois aspectos evidenciam-se: o agigantamento das obras (Christo simplesmente embala vagões e edifícios; os escultores de “estruturas primárias” ocupam todo espaço útil da galeria; Marcelo Nitsche, n Brasil, faz crescer cada vez mais “bolhas” ou objetos infláveis: Oldemburg agiganta alimentos urbanos, seus “pop-foods” , e roupas, reconstituindo quartos e ambientes inteiros, como também Segal com seu posto de gasolina) e a precariedade sempre maior dos materiais empregados. Na chamada “arte provera” são empregados materiais como terra, areia, ou detritos, na arte cinética, a desmaterialização é quase completa (trabalha-se com luz, com imagens em contínua metamorfose). Paralelamente surgiram outros suportes matemáticos ou tecnológicos. Por outro lado, o artista passou simplesmente a apropriar-se de objetos existentes, criando novamente “ready-mades”, transformando, retificando objetos, que assim ganham novas funções e são enriquecidos semanticamente com idéias e conceitos.
E quanto mais a arte confunde-se com a vida e com o quotidiano, mais precários são os materiais e suportes, ruindo toda a idéia de obra. Da apropriação de objetos, partiu-se para a apropriação de áreas geográficas ou poéticas simplesmente de situações. A obra acabou.
Obras em Destaque
Lygia Clark ao propor, por volta de 1963, seu Caminhando (uma tira de papel, à semelhança da fita de Moebius, que deveria ser cortada pelo “espectador” com uma tesoura), eliminou da obra toda transcendência. Isto é, a obra, na verdade, deixou de existir: era simplesmente o caminhar da tesoura no papel. Terminada a experiência, acabou a obra. Sobrou a vivência do cortar, o ato. O mesmo com seu Diálogo de mãos. No Salão da Bússola foram feitas várias propostas semelhantes, por artistas jovens e quase desconhecidos. Luiz Alphonsus Guimarães apresentou sonora e fotograficamente o relato de uma expedição no Túnel Novo, em Copacabana. Tudo o que aconteceu foi gravado em fita (sons, ruídos, vozes, depoimentos, o aleatório sonoro da rua) e também em fotos, quase à maneira do cinema “underground”. O que estava no Salão, portanto, não era obra, mas documentário. A obra foi feita lá, no Túnel Novo. A apresentação da “gravatura”, no Salão, teve em mira, certamente, sugerir ao “espectador” a realização de expedições semelhantes. A obra, no caso, é uma proposta de tencionar o ambiente, visando um alargamento da capacidade perceptiva do homem. Um outro artista, músico experimental, no mesmo Salão, simplesmente sugeria aos visitantes (com tácito apoio do júri, que considerou válida sua proposta) as experiências a serem feitas – fora do Salão. Por exemplo, correr, em qualquer lugar, em espaço aberto ou fechado, verticalmente, em escadas, ou horizontalmente, nas praias, por quanto tempo desejar; ou permanecer em silêncio, em um grupo. A experiência termina com cansaço do corredor ou com o primeiro barulho. O resultado não é elaboração de uma determinada obra, mas um enriquecimento do indivíduo. O artista Guilherme Magalhães Vaz usou o Salão (onde marcou com giz, no chão, uma área, ali se colocando, ao lado de pequenos “sinais”) como veículo. Poderia usar outros, como sugeri-lhe, mais rápidos, como telefone ou o carteiro.
Cildo Meireles, que recebeu o principal prêmio do Salão, juntamente com obras anteriores, realizadas com materiais diversos, concorreu com três desenhos. Estes eram simplesmente folhas de papel contendo sugestões, escritas à máquina, para que os espectadores realizassem vários tipos de experiência, como, por exemplo, determinar uma área na praia. Não há mais obra. Não é mais possível qualquer julgamento. O crítico hoje é um profissional inútil. Sobra, talvez, o teórico.
O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte uma emboscada. Atuando, imprevistamente, onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou instrumento de guerra ou de arte) o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o espectador vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho, o ouvido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos), sobretudo, necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o espectador (que pode ser qualquer um e não aquele que freqüenta exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele, mais que estranhamento ou repulsa, o medo. E só diante do medo, quando todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, isto é, criação.
Na guerra convencional da arte, os participantes tinham posições bem definidas. Existiam artistas, críticos e espectadores. O crítico, por exemplo, julgava, ditava normas de bom comportamento, dizendo que isto era bom, aquilo ruim, isto é válido aquilo não, limitando áreas de atuação, defendendo categorias e gêneros artísticos, os chamados valores plásticos e os específicos. Para tanto estabelecia sanções e regras estéticas (éticas). Na guerrilha artística porém, todos são guerrilheiros e tomam iniciativas. O artista, o público e o crítico mudam continuamente suas posições no acontecimento e o próprio artista pode ser vítima da emboscada tramada pelo espectador.
Porque não sendo mais ele o autor de obras, mas propositor de situações ou apropriador de objetos e eventos não pode exercer continuamente seu controle. O artista é o que dá o tiro, mas a trajetória da bala lhe escapa. Propõe estruturas cujo desabrochar, contudo, depende da participação do espectador. O aleatório entra no jogo da arte. A “obra” perde ou ganha significados em função de acontecimentos, sejam eles de qualquer ordem. Participar de uma situação artística hoje é como estar na selva ou na favela. A todo momento pode surgir a emboscada da qual só sai ileso, ou mesmo vivo, quem tomar as iniciativas. E tomar iniciativas é alargar a capacidade perceptiva, função primeira da arte.
A história da arte lida com “obras” (produtos acabados) que geram escolas ou ismos. Lida com estilos e tendências. Esta História oficial da arte, como observou Worringer, funda-se na capacidade artística mais do que na vontade, ou melhor na estética. Existe, porém, uma história guerrilheira, subterrânea, imprevista, que não se anuncia nem se deixa cristalizar. Nos gráficos da historia da arte, nas sinopses, está surgindo uma coluna central, saída da selva de ismos, a da contra-história. Está constituída de obras inacabadas, inconclusas, de projetos, do que foi apenas idéia e não chegou a ser, do que ficou na virtualidade. Probjetos. A contra-história deságua seu lodo na arte pós-moderna, acumula entulhos no terreno baldio da arte guerrilheira, onde não existem categorias, modos ou meios de expressão, estilos e, dentro de algum tempo, autores.
Esta contra-história pode ser contada em vários capítulos. Todos eles teriam o mesmo nome: a arte acabou. Os futuristas, ao imaginar uma reconstrução futurista do universo, desejaram incendiar todos os museus e escolas de belas artes, que inundavam a Itália, como se esta fosse um vasto cemitério. Russolo propunha uma arte de ruídos, sons e odores. Marinetti queria realizar congressos futuristas no espaço. Os Dadas foram os primeiros a propor uma antiarte. Marcel Duchamp, na Europa, acrescentou debochados bigodes à Mona Lisa e, nos Estados Unidos, onde chegou em 1915, ainda no aeroporto, afirmou:”a arte acabou, quem faz melhor esta hélice?”. Os construtivistas russos, de sua parte, afirmavam em 1923, na revista Lef, criada por Maiakovski: “A arte está morta”.“Cessemos nossa atividade especulativa (pintar quadros) e retornemos às bases sãs da arte – a cor, a linha, a matéria e a forma – no domínio da realidade que é a construção prática”. E El Lissitski gritava que “o quadro, um ícone para burgueses, morreu. O artista, de reprodutor, transformou-se em construtor de um novo universo de objetos”. Em manifestação realizada na Bauhaus, em 1922, apareceu um cartaz com a inscrição: “A arte morreu. Viva a arte nova da máquina segundo Tatlin”. A história recente da arte de vanguarda no Brasil incluiria os mesmos capítulos. Hélio Oiticica, depois de buscar a forma pela forma (sua posição esteticista anterior: período neo-concreto), depois de enroscar-se nos conceitos de beleza e pureza, verdadeiros labirintos, e de tatear no escuro à procura do belo, concluiu dramaticamente que “A pureza não existe”, na cabina que realizou e apresentou no Museu de Arte Moderna, durante a mostra “Nova Objetividade Brasileira” em 1967, e que, premonitoriamente recebeu o nome deTropicália. Mondrian, que entendia a arte como produto de substituição em uma época que carecia beleza, dizia que quando a vida encontrasse mais equilíbrio, quando o trágico desaparecesse, tudo seria arte, e não teríamos mais necessidade de pinturas e esculturas. Ele também previa a morte da arte. Hélio Oiticica precisou declarar, entre abismado e alegre, depois de uma luta dolorosa, que a pureza não existia, para que alcançasse a pureza. A arte para ele deixou de ser coisa superposta à vida, tudo passou à condição de arte e, como um primitivo que se encontra em estado permanente de descoberta e encantamento, não teve mais o pudor de apropriar-se de tudo o que via – tratava-se, então, como dizia, de “achar”. Data daí a arrancada da sua arte, fortemente tropical, pobre, verdadeira restauração de uma nova cultura brasileira. Lygia Clark, que com seuCaminhando negou, como ela mesma afirmou “todo conceito de arte que até então tinha”, dizia em maio de 68: “Antes o homem tinha uma descoberta, uma linguagem. Podia usá-la a vida inteira e mesmo assim sentir-se vivo. Hoje, se a gente se cristaliza numa linguagem, a gente para, inexoravelmente. Para totalmente de expressar. É preciso estar sempre captando. Não deve mais existir estilo. Antes a expressão era o transcendente, o plano, a forma, apontavam para a realidade que lhes era exterior. Hoje, na arte, as coisas valem pelo que são em si mesmas. A Expressão é imanente. As coisas não são eternas, mas precárias. Nelas está a realidade. No meu trabalho, se o espectador não se propõe a fazer a experiência, a obra não existe”. Um dos últimos coveiros da arte no Brasil, Décio Pignatari, mais preocupado com o consumo do que com a produção, disse em seu livro Informação, Linguagem, Comunicação: “…a arte é um preconceito cultural das classes privilegiadas. Vivemos a agonia final da arte: a arte entrou em estado de coma, pois seu sistema de produção é típico e não prototípico, não se ajustando ao consumo em larga escala. E não há porque chorar o glorioso cadáver, pois de suas cinzas está nascendo algo mais amplo e complexo, algo que vai reduzindo a distância entre a produção e o consumo e para o qual ainda não há nome: poderá inclusive continuar levando o nome do defunto, como homenagem póstuma: arte”. Todos estes capítulos, entretanto, constituem a própria vida da arte. Trata-se, portanto, de uma morte-vida. Sempre que um artista proclama a morte da arte, novo salto é dado, e a arte acumula forças para nova etapa. E citei apenas os capítulos referentes à época atual. Um levantamento mais amplo desta história guerrilheira mostraria que os séculos imediatamente posteriores à invasão dos bárbaros e à dissolução do mundo clássico, constituíram um desses capítulos da “morte da arte”. Os historiadores presos ao conceito de “realismo ideal” definem esta fase bárbara como a “crise da arte antiga” enquanto Worringer prefere ver uma “vontade de forma”. O Maneirismo, cuja revisão só foi possível depois do Dada, é a crise da Renascença, como quer Hauser, ou interpretação nossa, é a meta-arte do Renascimento. Foi sem dúvida alguma uma proposta de antiarte. Quem quiser analise as teorias de Lomazzo e Zucari e as obras de Piero de Cosimo, de Archimboldo, de Bosch, de Bruegel e de El Greco, para citar apenas os maneiristas mais conhecidos. Da mesma forma, no século 19, estão merecendo estudos mais aprofundados o Pré-Rafaelismo e o Art Nouveau, que na ausência de explicações mais razoáveis são considerados epifenômenos pelos historiadores. E a contra-história não é feita assim, de surpresas, de improvisações, de antiestilos, epifenômenos. Para os historiadores, portanto, o que importa são os capítulos da “morte da arte”, assim como para os teóricos, a discussão deve girar em torno das situações artísticas e não em torno da obras. Já Hegel falara da morte do objeto, dizendo que restaria apenas a vontade de um planejamento estético.
Marcel Duchamp, numa das muitas entrevistas que deu em vida, disse: “A arte não me interessa. Apenas os artistas”. Como o definiu certa vez o crítico Mário Pedrosa, pode ser chamado de várias maneiras: Arte Vivencial (o que vale é a vivência de cada um, pois a obra, como já foi dito, não existe sem a participação do espectador); Arte conceitual (a obra é eliminada, permanece apenas o conceito, a idéia, ou um diálogo direto, sem intermediários, entre o artista e o público); Arte Proposicional (o artista não expressa mais conteúdos subjetivos, não comunica mensagens, faz propostas de participação).
O que é arte. Na Inglaterra, grupos de guerrilha teatral dissolvem o teatro na multidão, em plena rua. Um tapa imprevisto num passante pode dar início à ação teatral. A resposta, ou simples perplexidade já é interpretação. Oldemburg abre buracos na rua, deixando ao espectador a tarefa de recolocar a terra. Cildo Meireles estende uma corda em quatro quilômetros de praia, no Estado de São Paulo, ou realiza uma fogueira em Brasília, recolhendo em seguida o material, e apresentando-o. Na verdade não tem mais sentido dizer que isso ou aquilo é arte. A antiarte é a arte de nossa época. Contudo, enquanto obra, a arte sempre foi a consciência que cada época tinha de si mesma (Read) tendo sido até aqui a coisa sensível por excelência, uma espécie de “relais” não apenas da cultura, mas de todos os demais fatos da vida social. Mas a obra desapareceu e a arte deixou de integrar o universo contestatório. Terá ainda o artista a mesma capacidade de contestação de um Goya ou de um Daumier? Não mais a arte, mas os estudantes, os provos, os hippies, os guerrilheiros urbanos que propõem em questão a sociedade atual. A arte parece estar ficando para trás. Propugnadores das “anticomodidades” dos “anticonfortos”, os hippies estão entre os principais contestadores da sociedade afluente e tecnológica, mesmo se considerarmos que seu protesto também está sendo consumido em termos afluentes. Isto é, o sistema está massificando sua rebelião (roupas, hábitos, etc.). Curiosamente, com os hippies, está ocorrendo o inverso do que ocorreu com os artistas. Se estes, como vimos, conseguiram trazer arte à vida, ao despojá-la de todo artificialismo, os hippies, em sentido contrário, estão partindo do nada, do zero, e ritualizando a vida, fetichizando os atos vitais do homem.
Os leitores que não busquem aqui alguma coerência. Impossível deixar de ser contraditório nesta época de perspectivas cruzadas. Já dizia Picabia, o artista canibal do Dada, que o difícil é sustentar as próprias contradições. É possível corrigir, portanto, o texto no momento mesmo em que é escrito. Se a arte, ao negar o específico e o suporte, misturou-se com o dia-a-dia, ela pode igualmente confundir-se com movimentos de contestação, seja uma passeata estudantil ou uma rebelião num gueto negro dos Estados Unidos, seja um assalto a banco. Marta Minujin, criadora de happenings, dizia que o melhor “environment” era a rua, com sua simultaneidade de acontecimentos e ações. Arte e contestação desenvolvem-se no mesmo plano: ações rápidas, imprevistas, ambas semelhantes à guerrilha. Dentro e fora dos museus e salões o artista de vanguarda é um guerrilheiro. Avant-garde, aliás, é um termo de guerra (se bem que de guerra convencional). Breton, teórico do Surrealismo, ativista do PC e membro da resistência francesa, em artigo premonitório, escrito em 1936, “Crise de l’objet” mostrou que a função da arte é desarrumar o quotidiano, colocando em circulação objetos insólitos, enigmáticos, aterrorizantes. A arte teria, então, como meta, quebrar a lógica do “sistema de objetos”, tumultuando o quotidiano com a “fabricação e o lançamento em circulação de objetos aparecidos em sonho”. Contra a racionalização, não fazendo distinções entre o real e o imaginário, o Surrealismo propunha uma ação revolucionária com a missão de“retificar contínua e vivamente a lei, quer dizer, a ordem. No lugar da rotina, o insólito, o imprevisto”. Desarrumar o arrumado, destrabalhar o trabalhado, destruir o construído. Um dos veículos de divulgação do Surrealismo chamava-se Revolution Surrealiste. Não se tratava, portanto, para Breton de colocar a arte a serviço da revolução, mas de fazer uma revolução na arte.
A arte pobre, que cresce na Europa e nos Estados Unidos com a mesma força dos movimentos de contestação, e que tem no Brasil alguns de seus mais importantes participantes (Lygia Clark e Hélio Oiticica são. Indiscutivelmente, dois pioneiros internacionais) é um esforço semelhante, no plano “artístico”, ao dos hippies e guerrilheiros. Ela opõe-se ao binômio arte/tecnologia, tal como os hippies lutam contra o conforto, a higiene, contra o meio tecnológico e, por extensão, contra o caráter repressivo da tecnologia atual. A arte tecnológica repõe o tabu dos materiais nobres, que são agora o acrílico, o alumínio, o PVC e, também, o preconceito da obra bem feita, higiênica, resistente e durável. Sobretudo a “minimal art” e o “hard-edge”. Enquanto nas selvas do Vietnam, os vietcongs derrubam a flechadas os aviões F-111, colocando em questão, por processos primários, a tecnologia mais avançada e exótica do mundo, a arte pobre, tropical, subdesenvolvida, brasileira, mostra que o “plá” está na idéia e não nos materiais ou na sua realização.
Enquanto europeus e norte-americanos usam “computers” e raios “laser”, nós brasileiros ( Oiticica, Antônio Manuel, Cildo Meireles, Lygia Pape, Lygia Clark, Barrio, Vergara, etc.) trabalhamos com terra, areia, borra de café, papelão de embalagens, jornal, folhas de bananeira, capim, cordões, borracha, água, pedras, restos, enfim, com detritos da sociedade consumista. A arte pobre e a conceitual aproximam-se, assim, da “estética do lixo”, herdeira da arte dos detritos (merz) de Kurt Schwitters, que empilhou entulhos fazendo a sua famosa “merzbau” e usou tudo o que achava na rua para realizar seus quadros ( rótulos, arruelas, madeira, pano, estopa, papéis) e poemas (afinal, detritos eram, também, as palavras soltas recolhidas aqui e ali no aleatório dos jornais, dos anúncios, dos rótulos), da arte precária dos neo-Dadas, como Burri, dos happeningsrealizados por Cage, Kaprow, Warhol e Lebel nas ruas, oficinas, cemitérios de automóveis, borracheiros. Nada de materiais nobres e belos, nada além do acontecimento, do conceito.
A arte parangolé de Oiticica (capas, tendas, estandartes) lembra os trapos dos pobres que habitam nossas ruas e favelas, mas, também a roupas dos hippies. O remendo, a colagem de objetos (badulaques, quinquilharias) no próprio corpo, a transformação de embalagens (lata de lubrificantes, por exemplo) em novos objetos como cestas e lampiões, não são indicativos apenas da miséria, mas do sentido altamente lúdico do brasileiro. É aí, na inventividade, na extraordinária arquitetura das favelas, no morro da Mangueira, no Campo de Santana, no carnaval ou no futebol, que Hélio Oiticica encontra sua melhor motivação e não na arte cansada e saturada dos museus.
Arte corporal. O uso do próprio corpo. Em Oiticica, como em Lygia Clark, o que se vê é a nostalgia do corpo, em retorno aos ritmos vitais do homem, a uma arte muscular. Um retorno àquele “tronco arcaico” (Morin), às “técnicas do corpo”, segundo Marcel Mauss, aos ritmos do corpo, no meio natural, como menciona Friedmann. Arte como “cosa corporale”. Nos seus parangolés coletivos Oiticica buscou reviver o ritmo primitivo do TAM-tam, fundindo cores, sons, dança e música num único ritual. Nas manifestaçõesApocalipopótese, levada a efeito no aterro (Parque do Flamengo), em julho de 68, o que se procurou foi alcançar um ritmo só, coletivo, um pneuma que a todos integrasse. Esta arte ao mesmo tempo ambiental, sensorial e corporal, como é sabido, provocou enorme interesse na Inglaterra, onde Hélio Oiticica reside atualmente, já tendo realizado duas exposições em Londres e Sussex, assim como, nos Estados Unidos, as propostas igualmente sensoriais de Lygia Clark despertam a atenção dos meios científicos, sobretudo entre os jovens psicólogos. Em ambos artistas brasileiros a “obra” é freqüentemente o corpo (“a casa é o corpo”), melhor, o corpo é o motor da obra. Ou ainda, é a ele que a obra leva. A descoberta do próprio corpo. O que é de suma importância em uma época em que a máquina e a tecnologia alienam o homem não só de seus sentidos, mas de seu próprio corpo. Uma das características do meio tecnológico é a ausência. O distanciamento. O homem nunca está de corpo presente: sua voz é ouvida no telefone, sua imagem aparece no vídeo da TV ou na página do jornal. As relações de homem a homem são cada vez mais baratas, são estabelecidas através de signos e sinais. O homem coisifica-se. Se a roupa é uma segunda pele, a extensão do corpo (Mc-Luhan) é preciso arrancar a pele, buscar o sangue, as vísceras. Arte corporal, arte muscular.
Marcuse contra Mc-Luhan. O caráter repressivo da tecnologia atual, o desperdício da sociedade afluente já foram denunciados amplamente por vários pensadores, entre eles Marcuse. A tecnologia atual é grandemente orientada para a morte, apesar de todo esforço contrário no sentido de salvar a vida (a luta contra o câncer, a leucemia, etc.). Marcuse, no seu prefácio político de Eros e Civilização afirma o corpo quando diz: “A propagação da guerra de guerrilha no apogeu do século tecnológico é um acontecimento simbólico: a energia do corpo humano contra as máquinas de repressão”. Muitos anos antes, porém, Frantz Fanon, em estudo extraordinário sobre a contribuição da mulher árabe à guerra de libertação, a relação do esquema corporal feminino e sua mobilidade revolucionária, com a roupa que trajava (quando vestia à européia ela participava do esquema colonialista de dominação, perdendo seus valores árabes). O sucesso da “arte povera” tem o mesmo sentido simbólico apontado por Marcuse para a guerra de guerrilha.
A contestação da arte afluente deve ser, sobretudo, tarefa do terceiro mundo, da América Latina, de países como o nosso. É preciso queimar a etapa da arte afluente, aproveitando o que ela deixou de bom e integrando os valores positivos das nações que ainda não deram o salto da nova arte. O corpo contra a máquina. No caso brasileiro, o importante é fazer da miséria, do subdesenvolvimento, nossa principal riqueza. Não fazer nenhum tabu dos novos materiais e instrumentos, nem se deixar assustar. Sobretudo evitar confrontos artesanais (tecnológicos), por razões óbvias. Sempre estaremos em posição de inferioridade. O que importa, não custa repetir, é a idéia, a proposta. Se for necessário, usaremos o próprio corpo como canal da mensagem, como motor da obra. O corpo, e nele os músculos, o sangue, as vísceras, o excremento, sobretudo a inteligência.
Arte vivencial, proposicional, ambiental, plurissensorial, conceitual, arte pobre, afluente, nada disso é arte. São nomes. Arte vivencial, proposicional, ambiental, plurissensorial, conceitual, arte pobre, afluente, tudo isso é arte. De hoje. Nada disso é obra. Situações apenas, projetos, processos, roteiros, invenções, idéias.
((Publicado originalmente com o título “Contra a arte afluente”pela revista Vozes, janeiro-fevereiro – 1970. Integra a obra Artes plásticas, a crise da hora atual. Rio de janeiro, Paz e Terra, 1975, p24-34.)
Frederico Morais é crítico e historiador de arte e curador independente. Exerce a crítica de arte desde 1956, tendo colaborado com artigos e ensaios para jornais e revistas especializadas do Brasil, America Latina, Estados Unidos, Erupa e Austrália.