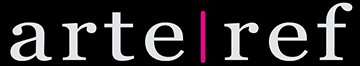Minimalismo ou preguiça? A eterna dúvida na arte contemporânea

Uma tela branca. Um bloco de concreto. Um espaço vazio com uma fita no chão. Em algum museu, alguém cochicha: “isso eu também faria”. O minimalismo continua a dividir opiniões — entre o sublime e o simplório, o gênio e o preguiçoso. Mas o que há por trás desse desconforto? Talvez, mais do que preguiça, o minimalismo seja uma provocação: o desafio de olhar o quase nada e ainda assim ver algo.
A origem do desconforto: quando menos parece demais
O minimalismo nasceu como uma resposta à saturação. No fim dos anos 1950, depois das tempestades emocionais do expressionismo abstrato — Pollock, de Kooning, Rothko —, um grupo de artistas resolveu baixar o volume. Donald Judd, Dan Flavin, Robert Morris e Agnes Martin decidiram que já havia emoção demais e sinceridade de menos. Substituíram o gesto exaltado pela precisão; o drama pela estrutura. Onde antes havia respingos e confissão, surgiram linhas, módulos e luzes fluorescentes.

Para muitos, foi um alívio. Para outros, um insulto. De repente, o museu se encheu de obras que pareciam não exigir o artista — apenas régua e paciência. A ausência de narrativa e a frieza geométrica eram quase um ato de provocação. O público, acostumado a procurar histórias e virtuosismo, passou a se perguntar: “isso é tudo?”. E era. O ponto era justamente esse — reduzir até o limite, deixar que o olhar fizesse o trabalho que antes cabia à pintura.

O desconforto nasceu aí. O minimalismo inverteu a lógica da arte: quanto menos se vê, mais se pede do espectador. A provocação não está naquilo que a obra mostra, mas no que ela nega. O vazio é o convite. E o convite, para muitos, soa como afronta.
Entre o silêncio e o escândalo
Nenhum movimento artístico foi tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão barulhento quanto o minimalismo. As salas brancas, os cubos de aço, os painéis monocromáticos — tudo parecia pedir silêncio. Mas bastava o visitante se aproximar para ouvir o burburinho: “isso eu também faria”, “meu filho já fez igual na escola”, “é sério que isso está num museu?”. A piada virou parte da obra. O escândalo, paradoxalmente, nasceu do vazio.
Obras em Destaque
A reação popular sempre foi proporcional à ausência de ornamento. Em 1966, quando Robert Morris expôs blocos de madeira idênticos dispostos no chão, um crítico escreveu que “o artista não fez nada além de empilhar o óbvio”. Anos depois, quando Martin Creed ganhou o Turner Prize por acender e apagar uma lâmpada numa sala vazia, o jornal The Guardian estampou: “O prêmio da arte vai para o interruptor de luz”. O sarcasmo era irresistível.

Mas talvez o que pareça preguiça seja, na verdade, radicalidade. O minimalismo tira o artista do centro e devolve o poder ao olhar. Obriga o espectador a lidar com o próprio desconforto diante do quase nada. O silêncio não é ausência — é convite à percepção. O escândalo, nesse caso, é apenas o ruído do nosso espanto.
O olhar como parte da obra
No minimalismo, olhar é participar. O que parece ausência de conteúdo é, na verdade, um deslocamento de protagonismo: a obra só existe porque alguém a contempla. Donald Judd dizia que “a arte é o que acontece entre o objeto e o espaço ao redor” — e, por extensão, o espaço mental de quem observa. O espectador deixa de ser visitante e passa a ser cúmplice.
Agnes Martin, em seus quadros quase invisíveis de linhas cinzentas sobre fundo branco, convidava à lentidão. Suas telas não são feitas para serem vistas, mas respiradas. É preciso tempo para perceber o que há ali — o brilho do grafite, a vibração entre as faixas, o silêncio que cresce dentro de quem olha. Não é arte para o olhar apressado, e talvez por isso ainda pareça enigmática num mundo que confunde complexidade com ruído.
Essa transferência de poder — do artista para o espectador — explica parte da irritação que o minimalismo provoca. Ver exige mais esforço do que julgar. E há algo desconcertante em se dar conta de que a emoção não está na obra, mas em nós. O minimalismo não entrega respostas; devolve perguntas. O vazio é apenas o espelho.
Brasil minimalista: menos também é mais por aqui
No Brasil, o minimalismo sempre chegou com sotaque. Nossas areias, ruídos e desordens parecem incompatíveis com o silêncio frio do cubo branco americano. E, ainda assim, alguns artistas brasileiros souberam traduzir o “menos é mais” sem perder o calor tropical. Waltercio Caldas, por exemplo, constrói ausências com a precisão de um relojoeiro zen. Suas obras, feitas de fios, vidros e ar, convidam o espectador a “ver o invisível”. É o tipo de arte que não grita — sussurra.

Mira Schendel fez do papel o território da transcendência. Seus trabalhos, repletos de linhas, letras e transparências, transformam o gesto mínimo em respiração. Há algo de espiritual na economia de meios — uma recusa à pressa, uma ética do vazio. Já Amilcar de Castro, com suas chapas de aço cortadas e dobradas, condensou a escultura à pureza do gesto. Um corte e um movimento: o essencial como ato poético.

O público brasileiro, porém, costuma lidar com o minimalismo à sua maneira — entre o fascínio e a ironia. Diante de uma obra silenciosa, sempre há quem diga: “faltou tinta” ou “esqueceram de terminar”. Essa espontaneidade é, no fundo, parte do jogo. O humor com que reagimos ao vazio talvez seja nossa forma mais sincera de participar dele.
Quando o minimalismo vira preguiça
Toda ideia poderosa corre o risco de virar fórmula — e o minimalismo não escapou. O que nasceu como filosofia do essencial, com o tempo, virou atalho para a falta de substância. A máxima “menos é mais” foi mal interpretada como “menos esforço é suficiente”. Assim, o vazio, que antes era poético, tornou-se muitas vezes apenas vazio mesmo.
O problema não está no silêncio, mas na falta de intenção. Há obras que parecem não pedir atenção — apenas indulgência. Instalações apressadas, telas monocromáticas feitas em série, discursos vazios que tentam justificar a ausência de forma. O mercado, claro, adorou: quanto menos matéria, mais margem. O minimalismo virou decoração de luxo, Instagram-friendly, facilmente digerível. A radicalidade transformou-se em branding.
Mas há um abismo entre o essencial e o desleixo. Donald Judd passava semanas calculando proporções; Agnes Martin apagava e refazia linhas invisíveis com obsessão mística. Preguiça é o oposto disso — é o gesto sem consciência. O minimalismo autêntico é rigor, não indiferença. O que separa o nada do tudo é o pensamento. E esse, convenhamos, dá trabalho.
O espectador impaciente
Vivemos uma era de rolagem infinita, onde cada imagem dura menos de dois segundos na tela. Nesse ritmo, o minimalismo soa quase provocação. Em vez de explosões de cor e movimento, ele oferece silêncio — e o silêncio, hoje, é um insulto à pressa. Diante de uma obra que parece não acontecer, o espectador moderno se sente traído: “é só isso?”. A arte que pede pausa virou desafio quase ético.
O problema não está na obra, mas no olhar domesticado pela urgência. Fomos treinados para reagir, não para perceber. A experiência estética, que antes exigia tempo e disposição, agora compete com notificações e ansiedade. Por isso, o minimalismo parece tão anacrônico — ele exige um tipo de atenção que já esquecemos como dar. É como tentar meditar com o celular vibrando no bolso.
Mas há um mérito em insistir. Parar diante de uma escultura de Waltercio Caldas ou de um quadro de Agnes Martin é um pequeno ato de resistência cultural. O vazio, nesse contexto, se torna político: recusar o excesso é escolher ver com calma. Talvez o minimalismo incomode justamente por isso — porque nos obriga a confrontar o desconforto de desacelerar.
O minimalismo não é um estilo — é uma postura. Sua força não está no que mostra, mas no que se recusa a dizer. Num mundo que mede valor por volume, ele escolhe a economia; num tempo que premia a pressa, ele exige paciência. Talvez por isso incomode tanto: porque nos lembra que ver é um verbo lento.
Diante de um quadrado branco ou de uma lâmpada acendendo e apagando, a reação imediata é o riso, o tédio, a dúvida. Mas é nesse intervalo — entre o “não entendi” e o “talvez entenda” — que o olhar se transforma. O minimalismo nos convida a atravessar o desconforto, a perceber o invisível, a aceitar o vazio como parte da experiência.
No fim, a grande ironia é que o minimalismo não pede menos do espectador — pede mais. Mais tempo, mais presença, mais disposição para o silêncio. O resto é ruído.